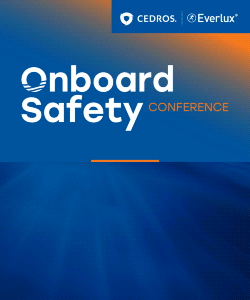Fiéis à sua paixão pelo Outono em Paris, os americanos apareceram na capital francesa nos primeiros dias de Novembro de 1903.
Mudar a terra e o mundo
A espetacularidade do projecto americano de abertura do Canal do Panamá, pode ser medida por uma única coisa. Os americanos antes de construir o canal tiveram que construir o país.
Exatamente. Primeiro construíram o Panamá e só depois o canal.
Na altura da epopeia francesa, e da sua continuação pelos americanos, aquilo que se designava por Panamá era um território colombiano, fruto do complexo processo de formação e independência das colónias espanholas da América do Sul, bem diferente do adotado por Portugal relativamente ao Brasil, e que deixou a este metade da totalidade do continente. Metade esta, constituída pelas melhores terras, circundadas por uma frente atlântica com mais de 9 000 quilómetros, onde se inclui a praia de Ipanema, enquanto a outra metade, constituída por cordilheiras, pântanos e desertos, teve que ser dividida por dez.
O Panamá tinha pertencido no século XVIII ao Vice-Reinado de Nova Granada, com as suas duas presidências, uma em Caracas (atual capital da Venezuela) e outra em Quito (actual capital do Equador). As lutas de libertação da América, empreendidas naquela região sobretudo por Simón Bolívar, e as suas vicissitudes, fez surgir uma nova organização e distribuição territorial ficando a Colômbia, já no século XIX, com direito ao istmo do Panamá.
No longo processo, primeiro da estruturação administrativa colonial sob a coroa espanhola, e depois com as independências sob a forma de repúblicas caudilhescas, o Vice-reinado de Nova Granada, englobava uma área de onde faziam parte as atuais Colômbia, Venezuela e Equador, e igualmente o Panamá, que com as independências, formou outros territórios, entre os quais a Grã Colômbia, onde estava incluído o território.
Inclusivamente quando sucedem as separações da coroa espanhola, em 1821 o Panamá ganha a sua independência, para quase logo a seguir e até 1850, aderir e separar-se da Colômbia quatro vezes, através de processos misto de voluntários e impostos.
Curiosamente as integrações do território do Panamá na Colômbia contaram sempre com o entusiasmo, e por vezes a colaboração dos Estados Unidos. A célebre Guerra dos Mil Dias (1899 – 1902), por exemplo, concluiu-se com um tratado de paz assinado num vaso de guerra americano.
E em 1856, um ano após a conclusão da Panama Railway, o governo americano teve que se haver com os interesses e as reivindicações dos panamenhos.
Aliás, estes movimentos sucessivamente agregadores e desagregadores dos territórios e estados da América Latina, também sucessivamente interessavam e desinteressavam a política externa norte-americana.
Vem desta faceta, de entre outras coisas, o relacionamento próximo e estrutural, mas independente, ou para lá de questões conjunturais, entre o Brasil e os Estados Unidos.
Logo após a independência o Brasil fez a sua opção continental em matéria de política externa, obra sobretudo da República, mas conduzida por dois monárquicos convictos, o Barão do Rio Branco e Joaquim Nabuco. Pelo contrário, o outro grande polo referencial da região, a Argentina, também optou rapidamente, mas pela Europa.
É gratificante e simplificador para Washington saber que em matéria de consenso, ter o acordo do Brasil é ter o acordo de metade da América do Sul.
Cedo começaram os descontentamentos com a gestão administrativa do Panamá, e que degeneraram nas guerras civis quase constantes, que opuseram liberais a conservadores, os primeiros adeptos do federalismo e de maior autonomia politica e administrativa das províncias, e os segundos, adeptos do centralismo administrativo com sede na capital, Bogotá, onde na altura em que Gabriel García Márquez lá viveu, caía uma chuvinha insone desde o princípio do século XVI.
O Panamá enquanto na posse da Colômbia, estava longe de ser o melhor modelo para os desígnios norte-americanos. O difícil relacionamento com aquele país por causa do canal, já tinha estado na origem da simpatia que a alternativa da Nicarágua para abertura do canal interoceânico, tinha recolhido junto do público e dos decisores norte-americanos.
Depois, quando o projeto francês definitivamente se afundou em dívidas e erros, as primeiras nas casas bancárias europeias, e os segundos nas margens do Equador, a Colômbia tentou dar os direitos concedidos à Compagnie Nouvelle du Canal Interocéanique como terminados, de forma a negocia-los mais vantajosamente com o futuro candidato ao empreendimento.
Isto fez os norte americanos acelerar o processo de aquisição dos direitos junto dos franceses, que perfeitamente informados do assunto, tentaram por sua vez tirar dividendos da situação, elevando a quantia da venda.
Mas já não tinham margem de manobra, tamanhas eram as agruras dos investidores da Compagnie Nouvelle, e a celeridade e firmeza dos americanos fizeram baixar o preço francês dos iniciais 109 milhões de dólares para o valor final de 40 milhões.
Tudo isto à margem do governo colombiano, e sob as fortes expectativas do Panamá.
Assim a Colômbia teve que ser ameaçada por uma sublevação local de panamenhos que decidiram subitamente voltar a ser independentes, e pelo apoio velado e explicito dos Estados Unidos a semelhante desejo. E a compra dos bens franceses só foi fechada, quando existiu a certeza de que uma vez construído pelos políticos o Panamá, os engenheiros podiam construir o canal.
A América para os americanos
Não tinha sido muito tempo antes daquele Outono de 1903, que ao abrigo do seu “destino manifesto” os norte americanos tinham concluído a ligação este-oeste do território. E curiosamente tinham antes, em 1855, igualmente construído no Panamá a primeira ligação por terra (por carril, mais propriamente) entre o Atlântico e o Pacífico, para servir sobretudo à acessibilidade de milhares de aventureiros à febre do ouro na Califórnia.
E antes ainda, tinham adotado a doutrina do secretário de estado, e depois presidente (1817-1825), James Monroe, segundo a qual a América era um assunto dos americanos.
A viragem do século XIX com o século XX, encontra os Estados Unidos com um surto de desenvolvimento e riqueza notável, e a braços com a sua ideia de política externa, que com pequenas alterações vem até aos nossos dias, conforme assinala o antigo chanceler Henry Kissinger no seu livro Diplomacy, e que consiste essencialmente num balancear, só aparentemente antagónico, entre o isolacionismo e o missionarismo. O primeiro, oriundo da vontade de conservar os valores herdados dos fundadores, que para isso tiveram que cortar com o velho mundo e a velha ordem, e o segundo, o missionarismo, da missão da propagação daqueles valores, entretanto tornados americanos, como a livre iniciativa e a democracia, ou pelo menos o sufrágio universal.
Estes dois modelos encontravam-se compatibilizados na doutrina Monroe, de acordo com a qual os assuntos americanos eram com os americanos. Segundo os seus detractores, uma tradução menos atenta desta doutrina levaria a grande nação do norte, e até há bem pouco tempo, a considerar a restante América como o seu quintal.
Seja como for, nos primeiríssimos anos do século XX aquela doutrina adaptava-se à perfeição ao assunto do canal, que não só estava em solo americano, como era um instrumento do livre comércio, outra das coisas a ser objeto de espirito de missão.
Curiosamente, a doutrina Monroe vai surgir no outro lado do Atlântico como oposição à orientação política saída do Congresso de Viena, que constituiria a derradeira afirmação de europeísmo. Esse europeísmo conduziria à guerra civil europeia, ou primeira guerra mundial, decidida e ganha precisamente pelos norte-americanos.
Por isto tudo, estes nunca tinham gostado nem um bocadinho de ver os franceses a escarafunchar a selva equatorial do Panamá. Nem esconderam o pouco que lhes interessava o drama francês.
Fala baixinho mas segura num cacete
Àquela altura dos acontecimentos, à frente dos destinos da nação encontrava-se Theodore Teddy Roosevelt, Thedorus Rex, provavelmente o presidente que melhor incorporou o destino manifesto dos norte-americanos.
De certa maneira pode dizer-se que Monroe falava em sentido lato quando reclamava a América (toda) para os americanos (todos), ao passo que Roosevelt era rigoroso, preciso e sincero. A América era para os Estados Unidos.
Speak softly and carry a big stick, fala com mansidão e pega num cacete, seria sempre a sua forma preferida de fazer cumprir aos outros aquele destino manifesto. Numa das muitas vezes em que se viu em agruras na política, escreveu no seu diário “Dou as boas vindas a quase qualquer guerra, pois acho que este país precisa de uma”. Teve-as várias ao longo da sua vida, razão mais do que suficiente para receber o Prémio Nobel da Paz em 1906.
Os americanos queriam abrir o canal do Panamá, e ficar com ele. O projeto americano vai ser profundamente diferente do francês, na quase totalidade dos seus componentes, e talvez logo a principal, a sua ideia.
Ambos envolvem a realização do projeto no manto sagrado da aproximação entre os homens e na facilidade de comércio marítimo, mas enquanto para os franceses (e os investidores) o canal é um negócio, para os americanos o negócio é apenas desejável, uma vez que o verdadeiro objetivo é a segurança da América.
Theodore Roosevelt que já tinha sido (como mais tarde o seu primo afastado Franklin) secretário da Marinha, e era um apaixonado por assuntos navais, decidiu não adiar mais a abertura de um caminho marítimo entre o Atlântico e o Pacífico, quando o US Navy Oregon, estacionado no Pacífico chegou atrasado ao conflito hispano-americano, à sua tão ansiada guerra.
Entre os corredores de Washington e a selva equatorial, o stick de Teddy Roosevelt orquestrou o assunto com a ajuda dos funcionários locais da Panama Railway, de forma a que na manhã quente e nebulada de 3 de Novembro de 1903, perante a teimosia da Colômbia em se desfazer do território, o Panamá nascia sob o olhar sereno, posto que atento, da canhoneira Nashville.
Ainda os franceses
Americanos e franceses já tinham cruzados os seus interesses por causa do Canal do Panamá, por alturas do seu inicio, e a propósito da Panama Railway, a companhia norte-americana que tinha aberto e começado a explorar a linha de caminho-de-ferro interoceânica. Esta acabou por ser incorporada ao património local, e posteriormente à Compagnie, por um preço excessivo, sobretudo para uma infraestrutura que acabou por nunca servir ao projeto francês.
A existência do caminho de ferro iria contudo ter uma influência fulcral no projecto norte-americano, não apenas para o processo construtivo, onde foi indispensável no transporte constante de homens e equipamentos, de e para as frentes de trabalho, e na remoção dos produtos de escavação, como sobretudo na ultrapassagem do Culebra.
E seria importante no processo operativo da travessia, quase tanto como as eclusas, porque possibilitou a conceção da tração dos navios, feita não pelas suas próprias máquinas, mas puxados por locomotivas a cremalheira assentes nos carris da linha, tal como ainda nos nossos dias.
A Panama Railway, tinha sido a primeira linha de caminho de ferro americana, costa a costa. Construída entre 1850 e 1855, tinha sido decisiva no transporte de milhares de homens de todo o mundo para a corrida ao ouro da Califórnia, encurtando o tempo da viagem, uma vez que dada a inexistência do caminho de ferro norte-americano para o oeste, era mais rápido descer ao istmo, fazer a sua travessia por comboio até ao Pacífico, e dali subir até à Califórnia.
Entretanto, os americanos, fosse pelo verdadeiro interesse numa situação alternativa, que até acabava por apresentar algumas vantagens, fosse para arrefecer as expectativas dos franceses, acompanhada pela desvalorização do seu património no Panamá, ainda estudaram e discutiram ao mais alto nível a possibilidade do canal ser aberto na Nicarágua.
Dizia-se na altura que a causa da derrota da Nicarágua como local da abertura do canal, tinha sido a existência de vulcões e a ausência do caminho de ferro.
O lobby da Nicarágua era fortíssimo, e liderado por nada menos do que JP Morgan, provavelmente o homem mais rico à superfície da terra naquele momento.
Este tinha fundado uma companhia encarregada de abrir o canal transoceânico, no local julgado mais apropriado: Nicarágua ou Panamá. E as obras tinham chegado mesmo a iniciar-se na primeira localidade, quando uma crise bolsista atirou com a empresa para a falência.
A alternativa da Nicarágua tinha a simpatia, isenta ou estimulada, da maioria dos políticos, entre os quais figurava nada mais, nada menos do que o próprio presidente William McKinley. O assassinato deste, e ascensão do vice, Roosevelt, seriam decisivos para o Panamá.
As vicissitudes da primeira experiência, fizeram a opção radical de Roosevelt. O canal seria no Panamá, e ao arrepio da bolsa.
A opção do interesse norte-americano pelo Panamá em detrimento da Nicarágua, tem merecido justamente por parte dos historiadores, um capítulo à parte na saga do canal.
Nesta história particular, o francês Philippe Bunau-Varilla, irmão do já nosso conhecido Maurice, engenheiro, militar, e monsieur, ocupa um lugar de destaque. Amigo de Lesseps, participou ativamente no projeto da Compagnie, e em todas as frentes, na bolsa de Paris, nos gabinetes de engenharia, e na selva.
Está no Panamá quando o empreendimento soçobra. E aí permanece, evitando envolver-se no rol de escândalos que se seguem. Apenas o suficiente para mesmo à distância acautelar o próprio capital.
Philippe tem como objectivo o seu canal, e surpreendentemente não só se empenha no melhor encerramento da Compagnie “Vieille” como na criação da Compagnie Nouvelle.
E para surpresa de muitos torna-se o maior acionista do projeto. Ou seja entra deliberadamente, quando quase todos os outros tentam sair não menos deliberadamente.
É que entretanto já tinha iniciado o seu flirt com os americanos. Associado a um eminente advogado especializado em direito internacional e homem de negócios ianque, William Nelson Cromwell, – apesar de haver interpretações divergentes segundo as quais os dois seriam rivais, que com trabalhos diferentes concorreram para o mesmo fim – quer salvar a todo o custo o Canal do Panamá, e o dinheiro que tem nele investido. Entre uma reduzida e duvidosa indemnização pelo velho canal, e um avultado lucro com o novo, mesmo que mais incerto, ele opta pela segunda solução, e sabe que apenas a pode concretizar com os americanos.
E sabe também que estes estão fortemente inclinados para o lado da Nicarágua, porque é um projeto mais barato e politicamente mais fiável, precisamente porque não tem a Colômbia a interessar-se por um canal que atravessa o seu território.
Inicia desta forma uma estratégia triangular assente em três vértices. Os Estados Unidos, a França, e porque não, o Panamá.
Com o último envolve-se de forma tão relevante no processo da independência, que alguns atribuem-lhe inclusivamente o desenho da bandeira do novo país. As recentíssimas autoridades panamenhas sabem o mesmo que todos, ou seja que o país nasceu para resolver o problema do canal com os norte-americanos, e nomeiam com essa finalidade Bunau-Varilla, cidadão francês, seu ministro plenipotenciário (um cargo muito na moda naqueles anos, ocupado por alguns dos grandes responsáveis por alguns dos maiores conflitos que eclodiram naquela altura um pouco por todo o lado) em Washington.
Para convencer a opinião pública americana, e sobretudo a dos seus congressistas, que estavam fielmente convencidos da necessidade de um canal interoceânico, mas que entendiam que este devia ser construído na Nicarágua, não teve outra coisa onde se pudesse agarrar se não aos vulcões.
Precisamente. Explorando um ancestral receio norte-americano por dinossauros e vulcões, registado na proliferação de museus de história natural, onde a vida logo após o Génesis era retratada de forma dramática, à base de manadas de dinossauros a passear entre vulcões e pântanos, o lobby de Bunau-Varilla enfatizou o facto de que se aqueles primeiros tinham sido extintos pelo Senhor, o mesmo, por uma qualquer razão, não tinha acontecido aos segundos.
Perante isto, o lobby da Nicarágua no congresso caiu na asneira de dizer que não sabia ao certo se na Nicarágua existiam ou não vulcões, mas que seguramente estavam extintos.
Depois apenas foi preciso na véspera da votação da decisão do local de abertura do canal, o lobby do Panamá (discute-se de quem foi efetivamente a autoria, se de Bunau-Varilla se de William Cromwell, ou se de qualquer um outro) enviar pela última vez aos congressistas uma carta a expor as suas razões, em cujo envelope colocaram um selo que representava o Momotombo, um dos vulcões da Nicarágua a expelir todo o fogo e terra do mundo, para a opção do Panamá como local de construção do canal ganhar por dois (há registos de oito) votos de diferença.
Importa dizer que também existiam à altura estudos fiáveis, e defensores honestos e desinteressados da solução adotada. O Panamá tinha portos melhores, tinha a ferrovia, e a abertura do canal seria mais barata e mais rápida, essencialmente porque seriam necessárias menos eclusas. E claro, as coisas começavam a ser orquestradas no sentido de ultrapassar a resistência da Colômbia.
Quanto aos franceses, era provavelmente a parte mais fácil de resolver, uma vez que ou aceitavam a proposta de compra dos americanos, ou levantavam a obra que tinham feito no Panamá e colocavam-na nas Tulherias, no Jardim do Luxemburgo ou no Bosque de Bolonha. Ou distribuíam-na pelos canteiros, pequenos ou grandes, dos acionistas.
Quando o novo país foi a Washington para a assinatura do contrato que ficou para a história como “Tratado Hay-Bunau-Varilla”, sendo o outro nome, de John Hay, secretário de estado norte-americano, a delegação panamenha recusou-se a ratificar os termos do contratato que passava para controlo americano não só canal, mas também boa parte do território. Mais tarde, e sempre com a silhueta da canhoneira de Teddy Roosevelt no horizonte, vieram a cumprir com a quase totalidade dos termos. Mas naquela altura, quando acrescentaram um novo nome histórico ao tratado, como “O tratado que os panamenhos nunca assinaram”, Bunau-Varilla pura e simplesmente disse-lhes que então voltava tudo ao principio, e eles tinha que se haver com o exército colombiano.
O tratado passou a ter um registo em como o canal, e uma faixa de 5 milhas para cada um dos seus lados, eram tão norte-americanos como a Quinta Avenida em Nova Iorque. E para sempre, coisa que não sabemos se a grande artéria da cidade possui.
Naturalmente que esta fórmula ainda refletia plenamente o final do século XIX, o século da colonização.
Poucos anos mais tarde, o século XX seria o século da descolonização, onde os Estados Unidos tiveram um papel preponderante, nomeadamente através da elaboração, promoção e implementação da Carta do Atlântico.
Desta forma a solução Nicarágua, segundo estudiosos do assunto, só perdeu quando os franceses assustados com a possibilidade de terem que vender o projeto aos esquimós baixaram os seus iniciais 100 milhões de dólares para menos de metade.
As negociações arrastaram-se por algum tempo, mas não muito face à envergadura do negócio, porque ambos tinham pressa. Os franceses de reaver algum capital que pudesse de qualquer modo atenuar prejuízos, e os americanos, de entrarem na posse de um património que consideravam indispensável à sua crescente afirmação no mundo. Para além disso havia que não deixar degradar ainda mais os bens que tinham ficado espalhados pela selva lacustre, como hospitais, bairros inteiros e maquinaria.
O património da Panama Railway, por exemplo, apesar de valiosíssimo para o que faltava construir do canal, e de pouco utilizado pelos franceses, encontrava-se envolvido em ferrugem e lianas.
Assim entre Novembro de 1903 e Abril de 1904, é fechado o negócio no valor de 40 milhões de dólares, criando-se a New Panama Canal Company. O Canal do Panamá ia (re)começar de forma espetacular.
Abrir e fechar oceanos
Gustave Eiffel parece ter sido sempre partidário da construção do canal por eclusas. Porque razão acompanhou a insensatez de Lesseps no assunto, por tanto tempo e com tal empenho ao ponto de ser severamente sentenciado no processo da falência da Compagnie, foi algo que nunca ficou perfeitamente esclarecido, apesar de Eiffel ter sido capaz de restabelecer o seu prestigio e fortuna, e ter-nos deixado as suas maravilhosas obras em ferro. Ainda por cima, algumas das suas preferidas em Portugal.
Os tempos são propícios aos trabalhos metálicos. Das minas europeias (o fenómeno da globalização da indústria mineira começava a dar os seus primeiros passos) era extraído metal de primeiríssima ordem, que passava depois a metalurgias francesas, belgas, inglesas e alemãs, de grande eficiência e qualidade, de onde as ligas metálicas saiam para as mãos de artífices e operários que faziam com elas desde miniaturas de animais a dreadnoughts, das caldeiras dos Steam Ship às volutas e cerejas da Art Nouveau, dos canhões Krupp aos aparos das canetas Parker.
E naturalmente comportas metálicas. Mesmo que fossem para abrir e fechar a passagem, não a um, mas a dois oceanos. E apesar de curiosamente as eclusas funcionarem com água doce.
Depois da idade dos metais, vivia-se a idade do aço, particularmente importante nos EUA, e medido por quilómetros de aço linear. Na horizontal, sob a forma de carris de comboio, e na vertical nas estruturas dos arranha-céus.
Portanto, apesar de se saber que não ia ser fácil, encontravam-se reunidas as condições para o fabrico das comportas capazes de fazer subir e descer as águas dos dois oceanos.
Estas, segundo os croquis e peças desenhadas que nos chegaram, evoluíram ao longo de uma série de materiais e designs, desde por exemplo o formato das de Eiffel, semelhante a enormes portões de correr, até se estabilizarem no modelo que funcionou à perfeição durante cem anos.
Constam de enormes folhas de aço fortemente rebitadas, a revestir uma teia de vigamento igualmente de aço, mas que forma cavidades vazias por forma a poderem flutuar e a aligeirar o esforço das dobradiças no seu funcionamento, fechando-se no formato de V.
O fabrico das comportas foi das poucas sub empreitadas entregues à iniciativa privada, mais precisamente ao empreiteiro McCintic-Marsahll, que chegou a ter 5 000 homens a trabalhar no Panamá.
O nosso cônsul aparece em Havana
Os chineses constituíram uma mole humana relevante na movimentação de mão de obra, na viragem do século XIX para o XX.
Tinham ido para a construção do caminho de ferro norte-americano, muitos deles clandestinos, e embarcados em Macau rumo a Cuba, onde ficavam nas plantações de cana de açúcar durante uns tempos. O fato deste agenciamento começar em Macau causava problemas ao governo português, que para os atenuar fez deslocar para Havana um diplomata, o já nosso conhecido Eça de Queirós, que em finais de 1872 parte para lá para assumir o seu primeiro posto de cônsul, e que fomos encontrar em Paris, no seu último posto consular, depois de também o termos encontrado na inauguração do Canal do Suez.
Mas pouco antes, muitos outros chineses deixaram Cuba, sempre clandestinamente, e rumaram aos Estados Unidos para trabalharem nas obras do caminho de ferro, donde transitaram para o caminho de ferro do Panamá e depois ficaram para a construção do canal. Dali transitaram para as ilhas chilenas e peruanas, para apanhar o cócó das gaivotas, o famoso guano, com que se fabrica um dos melhores adubos naturais que se conhece, e há altura indispensável à agricultura europeia.
Os poucos infelizes que sobreviveram regressaram ao continente com a ajuda humanitária, e diluíram-se na população indígena.
Arsenic and old lace
A abertura do Canal do Panamá não nos legou apenas aquele instrumento importantíssimo de redução de distâncias (como se a unidade de comprimento fosse o tempo), mas igualmente uma das cenas mais memoráveis do cinema, quando no filme Arsenic and old lace, de Frank Capra, um dos personagens escava o canal do Panamá no porão da sua casa de Nova Iorque, para enterrar os vagabundos que as suas tias vão envenenado amorosamente.
As entradas em cena e os gestos do adorável louco (o actor John Alexander), que imita à perfeição o velho Teddy, são sempre acompanhadas de imensas continências que ele distribui em perfusão, e que traduzem magistralmente a ideia marcial que o público norte-americano tinha da abertura do canal.
Produto do país que se assume (e naquela altura talvez ainda mais), como o paladino da iniciativa privada, a abertura do canal do Panamá pelos norte-americanos, constituiu uma elegia ao papel do estado e da economia planeada.
Mais do que o estado, foi o exército americano o responsável pelo sucesso da abertura do Canal do Panamá. E mais do que o exército, foi o ramo querido da nação, em quem se depositava o espirito da missão, a marinha, a US Navy.
Esta faceta soviética da abertura do Canal do Panamá por parte dos norte-americanos, fica a dever-se tanto com a aprendizagem dos erros dos franceses, como com o empenhamento de Theodore Roosevelt em entregar a realização do projeto à sua adorada marinha.
Pelo projeto francês, financiado pela bolsa, tinham passado uma série de diretores, gerais e de toda a ordem de assuntos, com ordenados sumptuosos que dificilmente pisavam o terreno, ou que quando isso acontecia, ao mínimo pretexto rumavam à Cidade do México, Rio de Janeiro ou Buenos Aires, e pouco depois regressavam à Europa.
Acontecia o mesmo com os empreiteiros, recrutados em processos pouco claros, que quando atingiam o lucro expectável abandonavam a obra não se importando em deixar para trás os equipamentos, já pagos pelas elevadas margens de lucro, e todos, diretores e empreiteiros, a coberto do alibi da falta de condições de vida local.
Roosevelt pretendia o seu projeto longe dos trusts e perto das bases navais.
Num corpo de engenharia da marinha, ele encontrava tudo o que ele e o canal precisavam. A competência, o espírito de missão, as unidades hospitalares sempre ao lado dos homens, e claro o soldo parco.
Com a sua oratória inflamada, parecida com a de outro apaixonado pela marinha que era Winston Churchill, quase levava os homens do canal a pagarem do seu bolso pelo privilégio de poderem estar ali.
Existia a ideia defendida tenazmente por Roosevelt que a abertura do Canal do Panamá não era uma obra de engenharia, mas uma obra patriótica. Contra o canal não estava apenas a natureza e a forma errada de trabalho, mas os inimigos. E estes iam desde a inveja das outras nações até às febres, passando por uma pega de fogo mal executada.
Aqueles que acompanharam de perto a atuação de Roosevelt na abertura do canal, devolveram à história um entusiasmo sobre a sua pessoa, idêntico ao que o presidente aplicou à obra.
“A maior proeza de engenharia da humanidade”, disse Roosevelt ” em todos os tempos.”
E Goethals, o último diretor da empreitada, e que a conduziu até ao final, não fez por menos:
“A obra não seria mais dele do que se a tivesse escavado com as próprias mãos.”
Afinal, o que fazia aquele Teddy do filme com a sua pá.
Fim da segunda parte – Continua